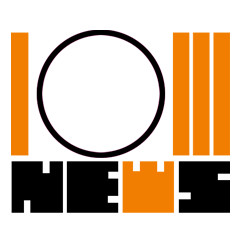A travessia e o risco na poesia de Adalberto de Queiroz
Carlos Willian Leite
Quando recebi o convite para organizar a seleção da seleta de poesia “Duro Feito Pedra, Frágil Feito Pólen”, de Adalberto de Queiroz, entendi que a tarefa não era apenas reunir poemas; era também oferecer ao leitor um trajeto possível de leitura. Uma entrada para esse conjunto que é, ao mesmo tempo, rio e ruína, impulso e hesitação.
Foi a partir desse trabalho — de selecionar e reordenar — que optei por um percurso invertido. Em vez de seguir a linha evolutiva da biografia, comecei pelo fim: pelo que há de mais elaborado, mais consciente. Depois recuei. Fui ao ponto em que a linguagem ainda não sabia o que dizer, mas já insistia em falar: eram os primeiros passos do poeta.
Trilhar por esse caminho me pareceu necessário. Romper a cronologia, não para negá-la, mas para colocá-la em tensão. Como se dissesse: olhe primeiro o que restou; depois volte ao que já foi. E talvez perceba que nunca houve começo. Apenas tentativa. Um poeta não nasce, tampouco termina. Ele se escreve, à maneira de Drummond: “escreve, escreve, escreve”.
Ao apresentar o resultado antes da origem, proponho uma arqueologia às avessas. Leitor: diante do poema maduro, do verso tenso e da palavra rarefeita, você é convidado a cavar o que ficou para trás. A perceber que as raízes já estavam ali — embora tortas — como quem busca a luz por instinto. E, se houver surpresa, que ela venha da constatação de que aquilo que parecia forma era só insistência. Escrever é persistir.
Há uma linha comum entre os livros, mas ela não é nítida. Nem poderia ser. A unidade aqui se desenha mais por sentimento do que por arquitetura. Os livros se escutam, não se explicam. São parentes, não irmãos.
Se “O Rio Incontornável” apresenta a travessia como busca, “Destino Palavra” apresenta o nome como dilema. “Cadernos de Sizenando” mergulha na infância para descobrir o silêncio, enquanto “Frágil Armação” aceita o colapso como forma estética. Nenhum livro responde pelo outro, mas todos compartilham o mesmo fantasma: tentar nomear o indizível.
O conjunto que se forma não quer ser domesticado nem resolvido. A poesia que atravessa esses livros não se pretende clara; ela é feita de restos, de ecos, de lapsos. Há versos que doem; outros apenas passam; outros voltam dias depois.
A seleção editorial não tenta dar conta disso. Apenas oferece um terreno: um campo simbólico povoado por mitologias, desertos, goiabeiras, ruínas, livros de “Isaías” e promessas soterradas — no qual o leitor possa caminhar não como quem interpreta, mas como quem atravessa e, claro, sente.
Nada disso faria sentido se essa poesia não carregasse uma espécie de urgência serena. Algo entre o silêncio e a oração. Versos que não querem convencer, mas que também se recusam a ser neutros. Uma dicção que sabe onde pisa e, ainda assim, pisa em falso — não por equívoco, e sim por escolha. Porque é aí que está o risco e, talvez, também a beleza. E, nesse gesto de deixar a linguagem à mostra, com sua carne crua e sua falência contida, talvez haja algo do único milagre possível da literatura: transformar a palavra em travessia; e o leitor, em margem.
Entre margens: um trajeto de leitura
Há um itinerário oculto nos quatro livros que compõem a seleta, mas não se trata de uma narrativa linear. “O Rio Incontornável”, “Destino Palavra”, “Cadernos de Sizenando” e “Frágil Armação” não obedecem a uma progressão didática. São como vértebras de um mesmo dorso que insiste em caminhar, embora o chão se desmanche sob os pés — ora duro como pedra, ora frágil como pólen.
A poesia não busca um centro, mas uma caminhada: do verbo ao espírito, da infância à mística, da palavra à falha. Crescem em direções diferentes, mas suas raízes se entrelaçam sob a terra. Nenhuma se fecha. Todas vazam. Um ciclo, talvez — mas não daqueles fechados, completos, metafísicos. É um ciclo orgânico, instável, pulsando ao ritmo de quem escreve para superar o tempo, não para habitá-lo. Poesia feita entre restos e raízes, sem a menor pressa de explicar o que está dizendo.
O primeiro eixo, talvez o mais visível, é o do rio. Ele não aparece apenas nos títulos ou nas epígrafes, mas na própria ossatura da escrita. Não é um rio geográfico. É um rio simbólico: uma corrente escura que promete redenção e esquecimento, mas jamais cumpre completamente. É a metáfora do tempo que insiste em passar, deixando a palavra encalhada na margem.
Em “O Rio Incontornável”, essa fluidez encarna o próprio movimento dos poemas. Versos que escorrem e colapsam; pausam e recomeçam. Há uma espécie de geografia intertextual: nomes como Eliot, Bonnefoy, Cabral e Dante não surgem como citação, mas como afluentes de uma água anterior — aquela que vem da infância, do cerrado, da perda, da oração. Nada é gratuito. Tudo é correnteza. “A poesia não afirma; ela se desloca”.
“Destino Palavra”, por sua vez, desvia o fluxo para dentro da linguagem. A travessia torna-se interna. O poema se volta contra si, como quem se reconhece no espelho com estranheza. A palavra aparece como matéria fraturada: é chamada, mas hesita; é corpo, mas falha. Não se trata de metalinguagem como jogo ou truque. O poeta sabe que não há salvação fora do verbo — mas também que, dentro dele, não há abrigo.
Se há um trânsito evidente entre textos, ele se dá menos pelas citações e mais pelo modo como o autor escuta as vozes anteriores. O diálogo intertextual não se estrutura como homenagem, tampouco como colagem. Ele opera como uma espécie de vocação de escuta: uma necessidade de inscrever-se em um campo simbólico já habitado, já povoado de ausências.
É o que se encontra em “Cadernos de Sizenando”, onde a palavra se dobra à memória — e nela fermentam a filosofia, o ar rarefeito, a infância desfigurada. A influência não é uma moldura, mas uma fissura: aquilo que interrompe, que atravessa, que impede o verso de se afirmar como certeza. A memória, nesse contexto, é menos um arquivo e mais um campo de batalha. E o nome próprio, Sizenando, não é personagem: é máscara. Um sopro que surge entre o eu e a linguagem.
O leitor, convocado, não encontra respostas. Mas talvez isso seja a promessa mais radical de um poema: não prometer nada.
“Frágil Armação” é o livro da carne, da falha, do escombro. O tempo, nele, não redime: apenas passa. É o livro do desencanto, do realismo seco, da recusa à metáfora como fuga. E, ainda assim, é, paradoxalmente, talvez o mais lírico dos quatro.
A poesia se volta ao urbano, ao íntimo, ao cotidiano feito de ruínas e saudades que não se anunciam. Há uma aceitação do transitório, mas sem encantamento. A palavra é resíduo. Tentativa. Uma armação instável, que não se sustenta — mas insiste. Versos curtos, incisivos, num ritmo que racha e arrasta. Mas há um sopro de ternura em meio às lascas: uma lembrança da infância, uma avó comendo manga, um cão, uma tarde de chuva. A poesia, quando erra o alvo, às vezes acerta mais fundo.
Carlos Willian Leite, poeta, jornalista e editor da “Revista Bula”, é colaborador do Jornal Opção. O texto acima é a introdução do livro, publicada com a autorização do crítico e do poeta.
O post A travessia e o risco na poesia de Adalberto de Queiroz apareceu primeiro em Jornal Opção.